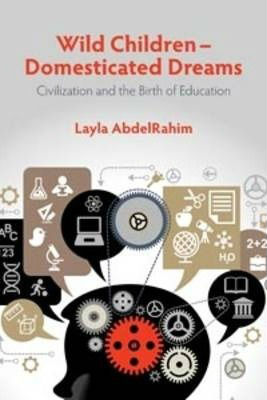
por Layla AbdelRahim
(Layla, é antropóloga e anarquista, discute educação dentre outros temas como ecosofia, especismo, epistemologia e estudos culturais)
Somos ensinados, desde a nossa infância, que todos os “recursos” do mundo fazem parte de uma cadeia alimentar que são consumidos por aqueles que estão no topo da cadeia, assim como os consumidores dos “recursos” estão no mais baixo nível da hierarquia predatória. Também nos foi dito que a vida na natureza é famélica, repleta de perigos mortais e que a civilização nos poupou de uma existência curta e brutal. Quando crianças, passamos a acreditar que a vida na civilização é boa para nós, na verdade, até mesmo indispensável para nossa própria sobrevivência.
A civilização de hoje, a europeia/ocidental, deve sua existência à Revolução Agrícola, nascida no Crescente Fértil, com a domesticação do trigo no Oriente Médio em torno de 17.000 a.C. – um evento seguido pela domesticação de cães no Sudeste Asiático por volta de 12.000 a.C. e civilizações paralelas independentes na América do Norte em torno de 11.000 a.C. [1] Consequentemente, uma nova concepção de alimento impulsionou essa práxis socioambiental, pois levou alguns seres humanos a mudar suas estratégias de subsistência daquelas baseadas em uma concepção do ambiente como selvagem ou existente para seu próprio propósito, apoiando a diversidade da vida para um mundo existente para fins humanos, para ser gerenciado, possuído e consumido.
Assim, a civilização não começou simplesmente como uma revolução agrícola; antes, a revolução ocorreu na concepção ontológica e monocultural do mundo como existente para o uso e consumo humanos, criando assim a necessidade de conceitos como recursos, hierarquia e trabalho. Como a civilização está enraizada na apropriação de alimentos e “recursos naturais”, bem como do trabalho escravo (cães, cavalos, vacas, mulheres, garimpeiros, camponeses, etc.), hoje todas as nossas instituições, inadvertidamente, atendem a esses construtos e necessidades que foram gerados por esta perspectiva monocultural. É por isso que toda instituição ou empresa contemporânea tem um departamento de “recursos humanos” e está, portanto, ligada ao gerenciamento, à morte e à proteção da propriedade de recursos “naturais” e outros. [2]
Assim, tudo, incluindo os seres humanos, tornou-se “profissionalizado” e, portanto, dividido em categorias de gênero, étnicas, raciais e outras, especializadas em esferas específicas do trabalho, caindo em nichos definidos da “cadeia alimentar”. A linguagem reflete essas categorias e naturaliza a opressão. Por exemplo, nas línguas europeias, a humanidade é misturada com masculinidade. A palavra “mulher” nos permite aceitar, inconscientemente, que a feminilidade implica um aspecto da humanidade, apagando nossa animalidade (feminina), excluindo, assim, os animais não humanos, despersonificados dos privilégios concedidos a alguns animais (um pequeno grupo de primatas) por pertencer à “humanidade”. Além disso, ao separar essas categorias de humanidade, animalidade, feminilidade, masculinidade, raça, etnia, etc., a linguagem oculta a essência racista, especista e patriarcal da civilização, onde mulheres humanas e não humanas têm sido relegadas a uma classe especializada na produção de recursos, humanos e não humanos.
>> Para ler o texto na íntegra clique aqui:
agência de notícias anarquistas-ana
Marchando no tempo,
antes de tudo e após tudo,
soberbo, o silêncio.
Alexei Bueno
Esse caso do orelha me pegou demais. A barbárie é cada dia mais real. E a propósito, belo texto liberto!
Esta coluna é uma ótima iniciativa. Precisamos de mais resenhas sobre os livros com temática anarquista que estão sendo lançados…
Noam Chomsky roots are in the Marxist Zionist "Hashomer Hatsair" youth movement. He even spent few months in an Israeli…
crítica válida e pertinente, principalmente para o momento atual.
Que a terra lhe seja leve, compa!